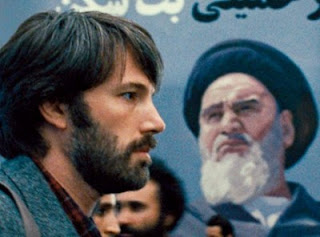História (tempo e espaço), poesia, política, sociedade, cultura, economia, educação... Antes que o silêncio me torne cúmplice.
Pesquisar este blog
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
terça-feira, 26 de fevereiro de 2013
Como nos tempos dos índios malvados
Há algo comum entre “Argo” e “A hora mais escura”, candidatos ao
Oscar. Ambos veem muçulmanos apenas como caricatura ideologizada
Por José Gerado Couto*
22/02/2013
Quis o destino – ou a mão
invisível do mercado cinematográfico – que dois fortes concorrentes ao Oscar
deste ano fossem filmes que podem ser englobados no tema geral da “guerra ao
terror”, mais precisamente da hostilidade recíproca entre norte-americanos e
muçulmanos “radicais”, a guerra nada fria de nossa época.
Ambos são centrados em ações
espetaculares capitaneadas pela CIA: em Argo, de Ben Affleck, a retirada de
seis funcionários diplomáticos americanos do Irã conflagrado pela revolução
islâmica de 1979; em A hora mais escura, de Kathryn Bigelow, o cerco a Bin
Laden e seu suposto fuzilamento à queima-roupa numa cidade paquistanesa, em
2011.
Trailer de Argo
Três décadas separam os dois
eventos, mas nos dois filmes persiste um traço comum: a total falta de
interesse dos realizadores em conhecer o “outro”, em tentar, ao menos por um
instante, se aproximar de seu ponto de vista, buscar compreender suas
motivações. O que há é um “nós” e um “eles”, como nos velhos filmes de índios,
ou de alienígenas.
Tanto em Argo como em A hora
mais escura, todos os muçulmanos que aparecem são fanáticos, estúpidos,
traiçoeiros e cruéis – com exceção, claro, dos que se converteram em aliados
dos EUA (como o bom índio Tonto, companheiro do Zorro do faroeste).
Tudo bem. O cinema americano
levou décadas para começar a tentar conhecer os índios, para passar a vê-los
como pessoas e não como uma horda selvagem indistinta, para reconhecer que eles
tinham direitos, carências e desejos próprios. Talvez aconteça o mesmo com o
olhar lançado aos muçulmanos – e aos árabes em geral. Tomara que não demore
tanto.
Heróis individuais
De resto, não há como acusar
duas grandes produções norte-americanas de ser extremamente… norte-americanas.
Sua visão há de ser, em linhas gerais, a predominante entre seus compatriotas.
E é preciso reconhecer que nenhum dos dois filmes é deslavadamente patrioteiro
a ponto de esconder as culpas ianques no cartório. No breve prólogo de
contextualização histórica de Argo é dito claramente que os EUA ajudaram a
derrubar um presidente nacionalista iraniano democraticamente eleito para
instalar em seu lugar o corrupto e tirânico (mas pró-Ocidente) xá Reza Pahlevi.
A hora mais escura, por sua vez, já começa com uma sessão de tortura de um
prisioneiro muçulmano no pós-11 de setembro.
No mais, apesar do aparato
mobilizado nas duas ações, são nitidamente histórias de heróis individuais: o
especialista em exfiltration Tony Mendez (Ben Affleck) em Argo, a agente Maya
(Jessica Chastain) em A hora mais escura. Nada mais americano.
As diferenças mais importantes
entre os dois concorrentes estão justamente na linguagem cinematográfica
adotada, no estilo de narração, nas referências estéticas.
Argo é, evidentemente, muito
mais leve e agradável, até porque trata de uma operação baseada na astúcia, não
na violência, e que teve final feliz. O que o converte em algo mais que um
simples thriller é justamente a imbricação do tema da política internacional
com o da indústria da comunicação e do entretenimento. Se, como formulou Von
Clausewitz, “a guerra é a continuação da política por outros meios”, o cinema
(e por extensão a indústria cultural) é a continuação da guerra por outros
meios.
Ficção da ficção
Para tirar do Irã os
funcionários diplomáticos americanos, a CIA engendrou um plano ousado: simular
a produção de um filme canadense de ficção científica naquele país. Esse
entrecho – real – serve a Affleck para brincar com Hollywood como o lugar da
fabricação de mentiras. Toda essa vertente do filme – entrelaçada por uma
montagem hábil à narração da crise em Washington e no Irã – é o que ele traz de
mais divertido. A dupla de picaretas hollywoodianos encarnada por Alan Arkin e
John Goodman é responsável pelas falas mais memoráveis, como esta: “Se você
quer vender uma mentira, ponha a imprensa para vendê-la por você”. Ao que tudo
indica, uma frase recorrente em Hollywood.
Tanto na linha cômica como no
suspense e no melodrama familiar, a matriz assumida deArgo é o cinema narrativo
clássico norte-americano, sobretudo o dos anos 1970, com sua sintaxe um tanto
mais frouxa e influenciada pela televisão (e o símbolo desse declínio é o
letreiro escangalhado de Hollywood na montanha).
Já a referência que Kathryn
Bigelow parece querer mimetizar é a das reportagens televisivas em tempo real.
A ânsia de parecer documental chega a sacrificar a inteligibilidade e até a
visibilidade do que é mostrado. Na sequência crucial da invasão do bunker do
suposto Bin Laden, não se enxerga praticamente nada. Faltou apostar no
ilusionismo do cinema, na capacidade que temos de acreditar que uma cena está
sendo iluminada só por uma vela mesmo que haja potentes holofotes e refletores
no set. Enfim, se o modelo de Argo é a velha e boa Hollywood, a de A hora mais
escura é a CNN.
Ideologia escondida
Duas últimas observações críticas
– e quem não quiser saber o final do filme de Ben Affleck pode parar por aqui.
Há em Argo uma imagem eloquente, quase um carimbo de conservadorismo americano:
a do abraço entre o herói retornado e sua amada, com a bandeira das estrelas e
listras tremulando ao fundo. Clint Eastwood, ele próprio republicano e
conservador, usou a mesma iconografia no final de Sobre meninos e lobos, mas
com dolorosa ironia. Uma boa sacada de Argo, por outro lado, é o de exibir em
destaque, no final, os bonequinhos de Star Wars e outras sagas de ficção
científica do filho do protagonista. A fantasia do menino e o ofício do pai
fazem parte da mesma mitologia do triunfo, da mesma lógica da conquista e da
expansão. Até que ponto o filme de Affleck é uma reflexão crítica sobre esse
mecanismo e até que ponto se limita a reiterá-lo, talvez seja cedo para
responder.
Já em A hora mais escura, o que
há de mais ideológico é a conversão de escolhas políticas e éticas em questões
meramente técnicas. Por exemplo: mais de uma vez se faz referência no filme à
falsa alegação de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, mas sempre
como tendo sido um inocente erro técnico, quando é quase certo que o que houve
foi má fé, para justificar a invasão militar do país. Ainda mais perigosa é a passagem
em que a investigação sobre o paradeiro de Bin Laden parece emperrar porque não
se pode mais usar métodos de interrogatório pesado (leia-se tortura). O
espectador é quase induzido a lamentar que os ventos da política tenham mudado
e que Obama tenha sido obrigado a frear a barbárie de seus compatriotas.
* Crítico de cinema e tradutor.
Fonte: Outras
Palavras
domingo, 24 de fevereiro de 2013
Acordo UE-EUA não é bom negócio, diz sociólogo
O anúncio de que os Estados Unidos e a União Europeia (UE)
planejam fechar um acordo de livre-comércio causou impacto. Logo surgiram
análises de que a parceria comercial pode ser uma tragédia para o Mercosul.
Esta não é, no entanto, a opinião do sociólogo Carlos Eduardo Martins que, em
entrevista ao Portal Vermelho, avalia que o acordo não terá efeitos econômicos
relevantes: “unir-se à economia estadunidense não é um bom negócio”, diz.
Por Vanessa Silva
Para o ministro de Relações
Exteriores, Antonio Patriota, ainda é cedo para avaliar as consequências de tal
acordo, mas observa que os países envolvidos terão dificuldade para chegar a um
consenso sobre alguns pontos, como o que trata das tarifas praticadas em alguns
setores.
As diferenças tarifárias são um
grande entrave na opinião de Martins, mas ele pontua também a questão política:
o acordo aproxima os governos europeus dos Estados Unidos. “Caso esta proposta
avance e impulsione as assimetrias e as frustrações sociais, como as que se
desenvolveram na União Europeia lastreada pelo euro, poderá provocar uma forte
oposição interna cujos efeitos políticos certamente terão impacto significativo
na geopolítica mundial do século 21”, avalia o Coordenador do laboratório de
Estudos sobre Hegemonia e Contra-hegemonia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (LEHC-UFRJ).
Já um acordo do Mercosul com a
União Europeia segue sendo complicado, na avaliação do sociólogo. Para ele, a
melhor saída está nas relações sul-sul que vêm sendo priorizadas pelo governo
brasileiro, com o fortalecimento da integração latino-americana, e das relações
com os Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
Acompanhe a íntegra da
entrevista concedida por e-mail:
Portal Vermelho: O acordo da
União Europeia com os EUA é a grande aposta para salvar as economias em crise.
Que influência este acordo terá nos países em desenvolvimento?
Carlos Eduardo Martins: Em
primeiro lugar, não creio que este acordo terá efeitos econômicos importantes
sobre os países desenvolvidos. As melhores estimativas falam em uma elevação em
0,5% da taxa de crescimento para a UE e 0,4% para os Estados Unidos, mas pode
bem ser o contrário.
Basta ver o caso do México, que
não reduziu sua taxa de pobreza com o estabelecimento do Nafta e apresenta
dinamismo econômico muito inferior ao do restante da América Latina. Se
tomarmos o século 21 como referência, este país cresceu a uma taxa per capita
de 1,1%, enquanto os oito principais países da América Latina o fizeram em 2,1%.
Articular-se à economia estadunidense não é bom negócio. E a aproximação entre
as economias estadunidense e europeia pode ser a aproximação entre duas
estagnações.
Há uma pesada herança
neoliberal que contribui para isso. Trata-se de economias com várias
convergências de políticas econômicas e de resultados: ambas praticaram
políticas de altas taxas de juros na década de 1990 e continuam com essas
práticas para empréstimos de longo prazo; apresentam alto nível de
endividamento do setor público; baixas taxas de investimento; altos níveis de
desemprego; aprofundamento da desigualdade e assimetrias internas. Ambas
praticaram políticas de abertura comercial e financeira que, no caso europeu,
se estabeleceu, sobretudo, através do euro como grande fundamento da integração
europeia, com desastrosos resultados macroeconômicos e sociais de longo prazo.
Em segundo lugar, qualquer
possibilidade de avançar em um acordo de livre-comércio entre Estados Unidos e
União Européia terá que tocar no tema dos subsídios agrícolas e nas barreiras
fito-sanitárias. A tarifa média do comércio entre as duas regiões é bastante
baixa, de 4%. Mas os subsídios ao setor agrícola chegavam a 23% e 40% da renda
agrária dos Estados Unidos e da União Europeia, respectivamente, entre 1998-2000.
Há também as barreiras fito-sanitárias nos Estados Unidos aos produtos europeus
e aos organismos geneticamente modificados estadunidenses na União Europeia.
Um controle dos subsídios
agrícolas não necessariamente impactará favoravelmente as economias em
desenvolvimento. Os subsídios agrícolas dividem-se em vários tipos como
subsídios à produção interna e subsídios à exportação. Pode-se perfeitamente
reduzir os subsídios que impactem o comércio entre Estados Unidos e União
Europeia e redirecioná-los para os outros mercados. De qualquer forma, trata-se
de uma negociação muito difícil, pois a realidade dos 27 países que compõem a
União Europeia é muito distinta — há casos em que a população agrícola é mais
expressiva que outros — os mecanismos de combate às assimetrias são limitados e
o avanço da produtividade na União Europeia nos anos 2000 foi muito inferior ao
dos Estados Unidos. Os países de maior peso relativo de população agrícola são
de economia mediterrânea (Grécia, Portugal, Espanha, Itália) ou do extremo
norte (Irlanda e Islândia) justamente onde a crise se fez mais forte. Uma
destruição do emprego agrícola nestes países pode agravar a crise social
europeia.
Finalmente, há que se
considerar a dimensão política presente num acordo deste tipo, que aproxima os
governos dos Estados Unidos e europeus, reforçando ações do imperialismo como
as que se manifestou na Líbia, no Mali, estimulando um envolvimento maior da
União Europeia e da Otan em intervenções internacionais contra governos e
poderes políticos da periferia e do sul, dividindo os seus custos cada vez mais
difíceis de serem suportados pelo governo estadunidense.
Caso este acordo avance e
impulsione as assimetrias e as frustrações sociais, como a que se desenvolveram
na União Europeia lastreada pelo euro, poderá provocar uma forte oposição
interna cujos efeitos políticos certamente terão impacto significativo na
geopolítica mundial do século 21.
Considera que ele possa, de
alguma maneira, impactar o acordo entre a UE e o Mercosul?
Há uma tentativa de a União
Europeia resolver o problema da sua crise interna buscando mercados externos.
Daí a busca por impulsionar acordos comerciais com outras regiões e países. Por
isso retoma o acordo bi regional entre a União europeia e o Mercosul, cujas
tratativas iniciadas em 1999 foram interrompidas em 2004. Há vários
contenciosos na agenda que dificultam um acordo amplo entre os blocos: a
vulnerabilidade e o protecionismo do mercado agrícola europeu frente às
exportações do Brasil e Argentina; a vulnerabilidade do setor industrial
brasileiro e do Mercosul frente à competitividade europeia; as exigências
europeias de segurança na legislação sobre investimentos em confronto com a
política de nacionalizações impulsionadas por Venezuela e Argentina; as
exigências europeias de tratamento nacional a empresas estrangeiras no mercado
de compras governamentais ou de regras de propriedade intelectual que limitem a
difusão do conhecimento.
Tudo leva a crer que os avanços
possíveis diante destes contenciosos serão muito limitados. Um acordo entre
Estados Unidos e União Europeia de livre-comércio poderia facilitar um acordo
com o Mercosul caso encadeasse a eliminação dos subsídios agrícolas aos
produtores europeus, estendendo este benefício ao Mercosul. Neste caso, poderia
ser utilizado o desmonte de um dos impasses da negociação como instrumento de
barganha para desmobilizar outros. Mas trata-se de um cenário muito hipotético
Os EUA firmaram o Nafta e a
Aliança do Pacífico ao sul do continente, e agora este acordo com a UE em uma
estratégia para fazer frente à China. Essas são também ações para golpear e
fragilizar economicamente a integração latino-americana?
Sem dúvida, trata-se de
proporcionar a integração via concorrência e defesa da propriedade privada.
Entretanto, as experiências históricas deste tipo de integração são de um
fracasso retumbante. A União Europeia vê aumentar a pobreza, a estagnação
econômica e o desemprego. Os Estados Unidos também. Ambas são economias onde o
Estado perdeu grande parte de sua capacidade de ação e liderança por seu
endividamento com um setor privado oligopólico e rentista, que não proporciona
emprego ou melhoria da condição social dos povos. Na América Latina, o México é
um grande exemplo deste fracasso econômico e social promovido por sua adesão ao
Nafta: desmontou parte significativa de seu setor industrial, importa metade da
gasolina que consome e não constrói, desde 1979, uma refinaria. Esta ofensiva
não tem base popular no continente.
Se sim, como a América Latina
poderia reagir? O estreitamento das relações sul-sul seria uma resposta ainda
que estas economias fiquem de fora do centro financeiro mundial?
A América Latina está em um
momento econômico bastante positivo. Beneficia-se da alta dos preços das
commodities, em última instância puxada pelo mercado chinês, acumula
importantes reservas internacionais, e possui a maior parte de seus governos
inclinados a posições progressistas do ponto de vista social.
Agora o continente deve
aprofundar a presença de um Estado popular e democrático, capaz de organizar e
direcionar o progresso de integração para a soberania financeira, científica,
tecnológica, alimentar e o desenvolvimento do mercado interno. Deve impulsionar
o Banco do Sul, aprofundando suas dimensões sociais e sua capacidade de
eliminar o subdesenvolvimento e reduzir assimetrias.
Esta é uma tarefa interna onde
o Brasil tem um papel chave a desenvolver. Além disso, a cooperação Sul-Sul é
da maior importância pela dimensão que vem tomando a ascensão das periferias na
economia mundial. Ela se manifesta de forma mais imediata no Brics, e na
possibilidade de organização de um Banco de Desenvolvimento capaz de promover
uma alternativa monetária ao dólar, investimentos em regiões subdesenvolvidas,
cooperação científica e tecnológica para quebrar das barreiras de entrada. Tudo
isto são possibilidades que para serem efetivadas requerem um alto grau de
organização política em torno dos processos de integração na América Latina.
Fonte: Vermelho
sábado, 23 de fevereiro de 2013
Nova edição brasileira de “O Capital” e ciclo de seminários mostram a vitalidade de Karl Marx
 |
| Retrato de Karl Marx feito com massinha pelo artista plástico Nobru |
Reportagem de Cassiano Elek
Machado publicada na Folha de S.Paulo de 22 de fevereiro de 2013.
Nos arredores de Budapeste há
um parque chamado Szoborpark, o Parque das Estátuas. Criado em 1993, este museu
ao ar livre abriga esculturas que perderam espaço na Hungria com o fim do
regime comunista.
Além de bustos de obsoletos
líderes locais, como Béla Kun, estão lá, entre estátuas de Lênin e Stálin,
diversas esculturas representando a efígie barbuda de Karl Marx.
Para muitos, nada mais
adequado. Com o fim dos regimes comunistas, as ideias do intelectual alemão
teriam virado perfeitos objetos de museu. Para outros tantos, porém, Marx
(1818-1883), o autor do “Manifesto Comunista” (obra que completou ontem 165
aninhos), está mais vivo do que nunca.
No Brasil, ao menos, as ideias
do filósofo, economista, cientista social, jornalista e historiador vivem um de
seus grandes momentos.
Prova concreta disso chega nas
próximas semanas às livrarias nacionais. A editora Boitempo, que vem lançando
todas as obras de Marx e de seu parceiro intelectual,o compatriota Friedrich
Engels (1820-1895), publica agora em março o primeiro dos três volumes de “O
Capital”, seu trabalho de mais fôlego.
Será apenas a segunda edição
integral brasileira do ensaio, lançado originalmente em 1867. Antes disso,
houve apenas uma tradução completa, feita nos anos 1960 por Reginaldo Sant’anna
(além de uma edição parcial, coordenada por Paul Singer, no início dos anos
1980).
Em conjunto ao lançamento da
nova edição de “O Capital”, a Boitempo e o Sesc-SP promovem, a partir de março,
um ciclo de palestras e debates sobre Marx que se estenderá até maio.
“Marx – A Criação Destruidora”
(veja programação completa acima) terá a participação de mais de 20
intelectuais de diversas áreas do conhecimento, incluindo convidados
internacionais de renome, como o filósofo esloveno Slavoj iek, o geógrafo
britânico David Harvey, que lançará, na ocasião, o livro “Para entender ‘O
Capital’”, e o cientista político alemão Michael Heinrich.
O CIENTISTA POLÍTICO
Heinrich tinha 14 anos quando
começou a ler Karl Marx, ainda no colégio. Hoje, aos 55, trabalha no MEGA,
codinome do projeto alemão Marx-Engels-Gesamtausgabe, que vem reestabelecendo
os textos e publicando em edições críticas todas as linhas já escritas pela
dupla.
O professor, que virá ao país
para uma palestra em 22 de março intitulada “Os Manuscritos de Karl Marx e
Friedrich Engels”, é autor de um popular livro de apresentação chamado “Uma
Introdução aos Três Volumes de ‘O Capital” (sem edição brasileira).
A menção aos “três volumes” no
título de seu livro não é casual. Quais seriam as suas sugestões para entender
bem o intrincado “O Capital”?, lhe questiona a Folha.
“Vou resumir todas minhas dicas
em uma só”, responde. “Leia ‘O Capital’ na íntegra.”
Heinrich, que vem trabalhando
em perspectiva não ortodoxa marxista (o próprio Marx se disse “não marxista” em
carta para o genro Paul Lafargue, lembra ele) para recuperar o legado
intelectual do autor, diz que certos livros de introdução desvirtuam os objetivos
da obra.
“As três partes do livro formam
uma unidade. Se você ler apenas o primeiro volume terá uma visão não só
incompleta, como errada. O sentido integral, mesmo de categorias como valor e
mercadoria, só se revela com o final do livro”, afirma.
É preciso, diz ele, questionar
o que Marx tenta analisar de fato. “Não era o capitalismo inglês nem o
capitalismo do século 19, mas sim a organização interna do modo de produção
capitalista, em seu ideal médio, como Marx resume no final do volume 3.”
Nessa perspectiva, sustenta
ele, a leitura do livro hoje faria muito mais sentido (e a Folha perguntou a
importantes intelectuais brasileiros “por que ler Marx hoje”). “Grande parte da
análise que ele faz do capitalismo se aplica muito mais ao que aconteceu no século
20 e no 21 do que ao tempo dele.”
Heinrich diz que um dos grandes
enigmas para ele “é entender como o trabalho de um homem que devotou a maior
parte da vida à análise do capitalismo e fez pontuais notas sobre a sociedade
capitalista é considerado o responsável por um modelo social extremamente
autoritário chamado ‘socialismo’”.
Testemunha da queda do Muro de
Berlim, em 1989, ele assistiu o interesse por Marx na Alemanha desabar, até
ganhar empuxo novamente no final dos anos 1990.
Ele defende o projeto no qual
trabalha, o MEGA (também chamado de MEGA-2, para se diferenciar de iniciativa
semelhante dos anos 1920) por difundir uma visão mais científica de Marx.
O TRADUTOR
É com perspectiva condizente ao
discurso de Heinrich que Rubens Enderle encarou a escalada do Everest que é a
tradução de “O Capital”.
Já responsável, sozinho ou em
parcerias, por traduções de importantes trabalhos de Marx para a Boitempo, como
“A Ideologia Alemã” e “A Guerra Civil na França”, ele atuou durante dois anos
no Marx-Engels-Institut da Academia de Ciências de Berlim-Brandemburgo,
responsável pelo projeto MEGA.
Apesar de estar embebido em
Karl Marx há muitas primaveras, Enderle, 38, diz que “não é marxista, mas sim
um marxólogo”, diz o tradutor gaúcho-mineiro-alemão.
“Isso influenciou o trabalho de
tradução, pois minha preocupação como tradutor é permanecer o mais fiel
possível aos textos, o que, no caso de Marx, implica se desvencilhar de chavões
e vulgaridades ideológicas que se acumularam sobre sua obra ao longo de séculos.”
Enderle, atualmente vivendo em
Munique, ainda não chegou ao topo da montanha. Ele está trabalhando no livro
2, que deve ser lançado no ano que vem.
Além das dificuldades
tradicionais da tradução do alemão (“falta ao português palavras como ‘coisal’
ou ‘coisalmente’”), ele sublinha outras dificuldades técnicas específicas: “Há
passagens em que Marx entra em detalhes sobre peças mecânicas, principalmente
de relojoaria”. Um dicionário alemão de relojoaria foi de grande ajuda.
Segundo ele, o fato de a atual
tradução ser a primeira baseada na edição MEGA trará mais diferenciais nos
volumes 2 e 3 da obra, publicadas depois da morte de Marx.
Ivana Jinkings, diretora
editorial da Boitempo, que tem extenso catálogo de marxistas, já publicou 15
obras de Marx e Engels (o campeão de vendas é “O Manifesto Comunista”, com 15
mil exemplares), diz que o volume 3 será lançado em 2015. Curadora de diversos
seminários sobre Marx, incluindo o atual, ela espera bater o recorde de público
desta vez. “Esperamos mais de 15 mil pessoas.”
Intelectuais brasileiros explicam por que ainda é importante ler Marx
Questionados pela Folha, quatro
intelectuais brasileiros explicam as razões pelas quais os escritos do filósofo
alemão Karl Marx são importantes até os dias de hoje e, por isso, ainda merecem
leitura.
ROBERTO SCHWARZ, crítico
literário
“Como percepção da sociedade
moderna, não há nada que se compare a ‘O Capital’, ao ‘Manifesto Comunista’ e
aos escritos sobre a luta de classes na França. A potência da formulação e da
análise até hoje deixa boquiaberto. Dito isso, os prognósticos de Marx sobre a
revolução operária não se realizaram, o que obriga a uma leitura distanciada. Outros
aspectos da teoria, entretanto, ficaram de pé, mais atuais do que nunca, tais
como a mercantilização da existência, a crise geral sempre pendente e a
exploração do trabalho. Nossa vida intelectual seria bem mais relevante se não
fechássemos os olhos para esse lado das coisas.”
JOSÉ ARTHUR GIANNOTTI,
filósofo:
“Os textos de Marx, notadamente
‘O Capital’, fazem parte do patrimônio da humanidade. Como todos os textos,
estão sujeitos às modas, que, hoje em dia, se sucedem numa velocidade
assombrosa. Depois da queda do Muro de Berlim, o marxismo saiu de moda, pois
ficava provada de vez a inviabilidade de uma economia exclusivamente regida por
um comitê central ‘obedecendo a regras racionais’, sem as informações advindas
do mercado. Mas a crise por que estamos passando recoloca a questão da
especificidade do modo de produção capitalista, em particular a maneira pela
qual esse sistema integra o trabalho na economia. O desemprego é uma questão
crucial. As novas tecnologias tendem a suprir empregos. Na outra ponta, o
dinheiro como capital, isto é, riqueza que parece produzir lucros por si mesma,
chega à aberração quando o capital financeiro se desloca do funcionamento da
economia e opera como se a comandasse. A crise atual nos obriga a reler os
pensadores da crise. Como cumprir essa tarefa? Alguns simplesmente voltam a
Marx como se nesses 150 anos nada de novo tivesse acontecido. Outros alinhavam
as modas em curso com os textos de Marx, apimentados com conceitos do idealismo
alemão, da psicanálise, da fenomenologia heideggeriana. Creio que a melhor
coisa a fazer é reler os textos com cuidado, procurando seus pressupostos e
sempre lembrando que a obra de Marx ficou inacabada e sua concepção de
história, adulterada, por ter sido colada, sem os cuidados necessários, a um
darwinismo respingado de religiosidade.”
DELFIM NETTO, economista
“Porque Marx não é moda. É
eterno!”
LEANDRO KONDER, filósofo:
“Os grandes pensadores são
grandes porque abordam problemas vastíssimos e o fazem com muita originalidade.
A perspectiva burguesa, conservadora, evita discuti-los. E é isso o que
caracteriza seu conservadorismo. Marx é o autor mais incômodo que surgiu até
hoje na filosofia. Conceitos como materialismo histórico, ideologia, alienação,
comunismo e outros são imprescindíveis ao avanço do conhecimento crítico. Por
isso, mais do que nunca é preciso frequentá-los.”
Fonte: Boitempo Editorial e Folha
de S.Paulo
Leia também:
Livro busca lado 'família' do pensador alemão Karl Marx
Intelectuais brasileiros explicam por que ainda é importante ler Marx
Intelectuais brasileiros explicam por que ainda é importante ler Marx
sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013
Dívida Pública Federal pode alcançar até R$ 2,24 trilhões em 2013
Enquanto isso, as políticas econômicas do governo continuam a encher as burras dos especuladores financeiros. O custo desta conta é o solapamento dos serviços públicos: Educação e saúde à frente. E dá-lhe privatização (centralização capitalista) e "parcerias público/privada". Privataria pura!!!
Por Wellton Máximo
Brasília – Depois de superar a barreira
de R$ 2 trilhões em dezembro, a Dívida Pública Federal (DPF) deverá encerrar o
ano numa faixa entre R$ 2,1 trilhões e R$ 2,24 trilhões. Os números foram
divulgados hoje (21) pelo Tesouro Nacional, que apresentou o Plano Anual de
Financiamento (PAF) da dívida pública em 2013.
De acordo com o PAF, que
apresenta metas para a dívida pública para este ano, o governo pretende
continuar a melhorar a composição da DPF em 2013, ampliando a fatia de títulos
prefixados (com taxas de juros fixas e definidas antecipadamente) e vinculados
à inflação e diminuindo a parcela corrigida por taxas flutuantes como a Selic
(juros básicos da economia) e pelo câmbio.
Segundo o documento, a fatia
dos títulos prefixados deverá encerrar o ano entre 41% e 45% da DPF.
Atualmente, a participação está em 40%. A parcela corrigida por índices de
preços deverá ficar entre 34% e 37%. Hoje, está em 33,9%.
A parcela da DPF vinculada a
taxas flutuantes deverá cair de 21,7%, registrado atualmente, para uma faixa
entre 14% e 19%. Já a participação da dívida corrigida pelo câmbio,
considerando a dívida pública externa, deverá encerrar 2013 entre 3% e 5%. O
percentual atual está em 4,4%. Os números não levam em conta as operações de
compra e venda de dólares no mercado futuro pelo Banco Central, que interferem
no resultado.
Em 2012, a DPF registrou a
melhor composição da história. A queda da participação de títulos corrigidos
por taxas flutuantes foi possível porque o governo fez duas operações de trocas
de papéis que reduziram a exposição da dívida à taxa Selic.
Essas operações reduziram o
risco da dívida pública, porque os títulos vinculados à Selic pressionam o
endividamento do governo quando os juros sobem. Caso o Banco Central reajuste
os juros básicos, a parte da dívida interna corrigida pela Selic aumenta
imediatamente. A taxa de juros dos papéis prefixados é definida no momento da
emissão e não varia ao longo do tempo. Desta forma, o Tesouro sabe exatamente
quanto pagará de juros daqui a vários anos, quando os papéis vencerem e os
investidores tiverem de ser reembolsados.
O Plano Anual de Financiamento
também prevê que o governo tentará aumentar o prazo da DPF. No fim de 2012, o prazo
médio ficou em quatro anos. O PAF estipulou que ficará entre 4,1 anos e 4,3
anos no fim de dezembro. O Tesouro divulga as estimativas em anos, não em
meses. Já a parcela da dívida que vence nos próximos 12 meses encerrará o ano
entre 21% e 25%. Atualmente, está em 24,4%.
O documento ressaltou ainda que
o Tesouro Nacional possui dois mecanismos de segurança para assegurar a
capacidade de financiamento do governo em caso de crise econômica que não
permita ao Tesouro lançar títulos no mercado. Em primeiro lugar, o Tesouro tem
um colchão de R$ 9,7 bilhões de compras antecipadas de dólares, suficiente para
pagar 61% da dívida externa a vencer até 2015. Além disso, o governo tem
reservas em caixa para cobrir cerca de cinco meses de vencimentos da DPF.
Por meio da dívida pública, o
Tesouro Nacional emite títulos e pega dinheiro emprestado dos investidores para
honrar compromissos. Em troca, o governo compromete-se a devolver os recursos
com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic, a inflação, o câmbio ou ser
prefixada.
Fonte: Br.Notícias
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013
Poder de consumo dos moradores de favela no país chega a R$ 56 bi por ano
A depender dos critérios adotados, no Brasil morador de rua pode
ser enquadrado como classe média (Almoço das Horas).
por Flávia Villela
Publicado em 20/02/2013
Apesar do enorme potencial de consumo de uma
população de cerca de 12 milhões de habitantes, esse nicho de mercado ainda é
pouco explorado devido ao preconceito, segundo o Data Popular (Francisco
Valdean/Arquivo RdB)
Rio de Janeiro – Os moradores
das favelas brasileiras consomem cerca de R$ 56 bilhões por ano, o que equivale
ao Produto Interno Bruto (PIB) da vizinha Bolívia. A constatação é de pesquisa
realizada pelo instituto Data Popular, em parceria com a Central Única de
Favelas (Cufa) divulgada hoje (20).
De acordo com o estudo, feito a
partir de entrevistas e do cruzamento de dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) com os da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), o
consumo popular triplicou nos últimos dez anos.
No entanto, apesar do enorme
potencial de consumo de uma população de cerca de 12 milhões de habitantes,
esse nicho de mercado ainda é pouco explorado devido ao preconceito, segundo o
diretor do Data Popular, Renato Meirelles.
“O morador de favela não quer
sair da favela, ele quer capitalizar isso nas marcas que ele usa. Esse era um
mercado invisível, pois estava debaixo dos nossos narizes, mas as pessoas só
enxergavam a favela pela ótica da violência e do tráfico”, disse Meirelles.
Segundo ele, dois terços dos moradores de favelas do país pertencem à metade
mais rica do mundo.
A pesquisa revela que a classe
C cresceu muito mais nas comunidades das metrópoles do que no interior do país,
com alta de quase 50% na última década (de 45% para 66%), assim como a média de
escolaridade, que subiu de quatro para seis anos no mesmo período.
O dono da empresa Vai Voando,
Tomas Rabe, é um dos empresários que apostaram no consumidor de baixa renda e
hoje não se arrepende. Com cerca de 70 lojas de vendas de passagens áreas
somente em favelas, sobretudo do Rio e São Paulo, a empresa, criada há pouco
mais de dois anos, tem planos de abrir mais 50 lojas este ano, apenas no Rio de
Janeiro.
“Este mercado é invisível para
quem não está atento”, disse o empresário. Segundo ele, menos de três anos
depois, a empresa está embarcando uma média de 3 mil passageiros por mês, com
43 mil passageiros embarcados até hoje.
Rabe explicou que, uma vez
rompido o preconceito, é importante entender esse público e se adequar aos
hábitos de consumo e à realidade dessa população. “A maioria não usa cartão de
crédito e muitos não têm nem conta em banco. Então, nossa forma de pagamento é
por boleto pré-pago”, explicou ele.
Segundo o estudo, 69% dessas
populações utilizam dinheiro como forma de pagamento, 9% usam cartão de crédito
de terceiros e 10%, cartão de crédito próprio. Além disso, cerca de 69% dos
moradores de comunidades vão ao shopping toda a semana e 50% comem fora
semanalmente. Nos próximos 12 meses, 49% pretendem comprar móveis; 36% querem
um novo eletrodoméstico; e 24% pretendem contratar serviços de TV por
assinatura.
O empresário Elias Targilene é
outro exemplo de sucesso entre os que investiram nas classes C, D e E. Com
cinco shoppings populares construídos em um período de três anos, ele pretende
lançar daqui a três meses o primeiro shopping do Brasil dentro de uma favela,
no Complexo do Alemão, zona norte do Rio.
“Não podemos mais falar que ser
popular é ser feio, sujo, fedido e desorganizado. Hoje, somos uma nação rica e
ser pop hoje significa ter serviço, ser bonito, atender bem”, declarou o
empresário.
Fonte: Rede
Brasil Atual
Drones: dossiê sobre uma guerra suja
Como EUA executam, sem
julgamento, supostos “inimigos”. Por que civis são alvo. De onde partem
ataques. Que precedentes programa abre
Por Cora Currier
Tradução Vila Vudu1
9/02/2013
É
possível que você já tenha ouvido falar das “kill lists” – listas de nomes de
pessoas a serem assassinadas. Certamente você já ouviu falar dos drones. Mas os
detalhes da campanha que os EUA movem contra militantes no Paquistão, no Iêmen
e na Somália – peça chave da abordagem que o governo Obama optou por dar à
segurança nacional – permanecem envoltos em segredo. Aqui oferecemos um guia do
que já sabemos e do que ainda não sabemos.
Onde se trava a guerra ‘dos
drones’? Quem faz essa guerra?
Os
aviões-robôs comandados à distância, os drones, são a arma escolhida pelo
governo Obama para matar militantes fora do Iraque e do Afeganistão. Os drones
não são a única arma – também há notícias de ataques aéreos tradicionais e
outros. Mas segundo uma das estimativas disponíveis, em mais de 95% dos
assassinatos premeditados executados depois de 11/9/2001, os alvos foram mortos
por drones. Uma das vantagens dos drones é que os soldados norte-americanos
fogem da linha de fogo.
O
primeiro ataque noticiado contra a Al-Qaeda aconteceu no Iêmen em 2002. A CIA
aumentou muito o número de ataques secretos com drones no Paquistão, durante o
governo George W. Bush em 2008. E sob o governo Obama o uso foi drasticamente
ampliado também no Paquistão e no Iêmen, em 2011.
Mas a
CIA não é a única agência a atacar com drones. O exército também já admitiu
“ação direta” no Iêmen e na Somália. Os taques nesses países são executados
sempre secretamente por grupos do Comando Conjunto de Operações Especiais
[orig. Joint Special Operations Command, JSOC]. A partir do 11/9, esse JSOC foi
aumentado. É hoje dez vezes maior, e assumiu funções de espionagem, além das
funções de combate. (Por exemplo, uma das equipes do JSOC atuou na operação que
assassinou Osama Bin Laden.)
A
guerra de drones é lutada por controle remoto, a partir de bases instaladas em
território dos EUA e numa rede de bases secretas espalhadas por todo o mundo. O
Washington Post conseguiu obter alguma informação sobre isso, examinando
contratos de construção nos quais havia itens não explicados. Por exemplo, na
construção da base dos EUA, numa minúscula nação africana, o Djibuti, de onde
partem muitos dos ataques contra Iêmen e Somália. Antes disso, no mesmo ano, a
revista Wired mapeou os atos de guerra dos EUA contra o grupo militante
al-Shabaab da Somália, e a crescente presença militar dos EUA em toda a África.
O
número de ataques no Paquistão caiu em anos recentes, de um máximo de 100 em
2010, para cerca de 46, ano passado. Mas o número de ataques contra o Iêmen
cresceu, chegando a mais de 40 ano passado. E só nos primeiros dez dias de
2013, já houve sete ataques no Paquistão.
O jargão da guerra dos drones
AUMF
[Authorization for Use of Military Force / Autorização para Uso de Força
Militar] é lei do Congresso dos EUA, aprovada poucos dias depois dos ataques de
11/9, que dá ao presidente autoridade para “usar toda a força necessária e
apropriada” contra qualquer pessoa ou grupo envolvido naqueles ataques ou que
tenha dado abrigo a alguém neles envolvido. Ambos, Bush e Obama exigiram para
si amplos poderes para deter e matar suspeitos de terrorismos, baseados nessa
AUMF.
AQAP
[Al-Qaeda in the Arabian Peninsula / Al-Qaeda na Península Arábica] é o grupo
afiliado à al-Qaeda que tem base no Iêmen, responsabilizado pelo atentado a
bomba contra um avião no Dia de Natal de 2009. Ao longo do ano passado, os EUA
aumentaram o número de ataques com drones contra a AQAP, nos quais foram
assassinados líderes do grupo e outras pessoas que não foram identificadas como
militantes.
DISPOSITION
MATRIX [Matriz de alvos a serem dispostos (mortos)] É um sistema para rastrear
suspeitos de práticas de atos de terrorismo e para classificá-los, com registro
de onde possam ser assassinados (ou capturados). O jornal Washington Post
noticiou nesse outono [nórdico] que o sistema “Disposition Matrix” é uma
tentativa de codificar, em listas nas quais os alvos são dispostos conforme sua
importância relativa, para serem assassinados. Essas listas são as chamadas
“kill lists” [listas para matar] dos esquadrões oficiais da morte dos EUA.
GLOMAR
A expressão designa a resposta a um tipo de pedido de informação sobre programa
secreto, cuja existência não possa ser nem confirmada nem negada. A palavra foi
usada pela primeira vez em 1968, quando a CIA disse a jornalistas que não podia
“nem confirmar nem negar” a existência [de um navio chamado] “Glomar Explorer”.
Hoje, a CIA tem respondido a quem procure informação sobre seu programa de
drones com “respostas GLOMAR”.
JSOC
[Joint Special Operations Command / Comando Conjunto de Operações Especiais] é
segmento militar altamente secreto. É o grupo que executou o assassinato de Bin
Laden e, hoje conduz o programa dos drones militares no Iêmen e na Somália.
Trabalham tb na coleta de inteligência.
PERSONALITY
STRIKE [Ataque ‘personalidade’] Designa o ataque a um indivíduo identificado
como líder terrorista.
SIGNATURE
STRIKE [Ataque ‘assinatura’] Designa o ataque contra algum suspeito de ter
atividade política militante, mesmo que sua identidade seja desconhecida. Esses
ataques baseiam-se na análise de um “padrão de vida” – informação que a
inteligência reúna sobre comportamentos que façam pensar que um indivíduo seja
militante político. Esse tipo de ataque, que Bush inaugurou no Paquistão, já é
autorizado hoje também no Iêmen.
TADS [Terror Attack Disruption Strikes / (aprox.) Ataques
para interromper ação terrorista], expressão usada às vezes em referência a
ataques nos quais não se conhece a identidade do alvo a ser assassinado.
Funcionários do governo Obama têm dito que os critérios para os TADS são
diferentes dos critérios para os Ataques ‘assinatura’, mas nem uns nem outros
foram jamais claramente explicados.
Como se definem as vítimas a
serem assassinadas?
Vários
artigos (1, 2 e 3) baseados, na maior parte, em comentários feitos por
funcionários não identificados permitem conhecer, pelo menos, um quadro parcial
de como os EUA selecionam seus alvos para assassinatos políticos predefinidos.
Dois relatórios recentemente publicados – de pesquisadores da Faculdade de
Direito da Universidade Columbia e do Conselho de Relações Exteriores – também oferecem considerações detalhadas
sobre o que se sabe de todo esse processo.
Sabe-se
que a CIA e os militares mantiveram, por muito tempo, ‘listas de matar’ que se
sobrepunham. Segundo relatos de noticiários da primavera passada, as listas dos
militares atropelou as demais nas reuniões comandadas pelo Pentágono, cabendo à
Casa Branca a decisão final. Missões particularmente ‘sensíveis’ têm de ser
autorizadas pessoalmente pelo presidente Obama.
Esse
ano, o processo mudou, ao que se sabe, para concentrar a análise dos
indivíduos-alvos e os critérios gerais para os assassinatos premeditados, na
Casa Branca. Segundo o Washington Post, as análises são feitas agora em
reuniões regulares entre as várias agências, no Centro Nacional para
Contraterrorismo. Enviam-se recomendações para um seminário permanente de
oficiais do Conselho de Segurança Nacional. E as decisões finais são levadas
pelo Conselheiro para Contraterrorismo da Casa Branca, John Brennan,
diretamente ao presidente. Vários estudos têm mostrado o importante e
controverso papel de Brennan na modelagem de toda a trajetória do programa de
assassinatos premeditados. Essa semana, Obama nomeou Brennan para dirigir a
CIA.
Pelo
menos alguns ataques da CIA não tem de esperar pelo sinal verde da Casa Branca.
O diretor da CIA tem autonomia, ao que se sabe, para autorizar assassinatos
premeditados no Paquistão. Numa entrevista em 2011, John Rizzo, ex-advogado
chefe da CIA, disse que os advogados da agência analisavam detalhadamente cada
‘alvo’.
Segundo
o Washington Post, o recente esforço do governo Obama para impor limites mais
bem definidos às listas para matar e aos “assassinatos assinatura” não inclui a
campanha da CIA no Paquistão. A CIA ganhou mais, no mínimo, um ano, para
prosseguir na campanha de assassinatos premeditados no Paquistão segundo,
exclusivamente, os próprios protocolos.
Os EUA assassinam pessoas
cujos nomes nem sabem?!
Sim.
Por mais que funcionários do governo apresentem os ataques de drones como
limitados a “líderes de alto nível da al-Qaeda que planejem ataques” contra os
EUA, muitas vezes o que se vê são ataques contra ‘possíveis’ militantes cujas
identidades os EUA absolutamente não conhecem. Os chamados “Ataques
‘assinatura’” começaram com Bush, no início de 2008; com Obama foram muito
expandidos. Não se sabe exatamente quantos dos ataques são “ataques
‘assinatura’”.
Em mais
de uma ocasião, os “ataques ‘assinaturas’” perpetrados pela CIA, sobretudo no
Paquistão, causaram tensões com a Casa Branca e o Departamento de Estado. Um
funcionário contou ao New York Times sobre piada que circularia, segundo a
qual, para a CIA, “três sujeitos fazendo polichinelos” são campo de treinamento
de terroristas.
No
Iêmen e na Somália, discute-se se os militantes que os EUA tomam por alvos
estão de fato tramando contra os EUA ou se, diferente disso, estariam tramando
contra o próprio país deles. Micah Zenko, membro do Conselho de Relações
Exteriores que muito criticou o programa dos drones, disse em entrevista à rede
ProPublica que os EUA, de fato, estão mantendo uma “força aérea
contraguerrilhas” para servir aos países aliados. Não raras vezes, os ataques
foram organizados a partir de inteligência local que, adiante, se comprovou
errada ou insuficiente. O Los Angeles Times examinou recentemente o caso do
iemenita que foi assassinado por um drone norte-americano e a complexa rede de
laços e contatos políticos que cercou o caso.
Quantos já foram mortos em
ataques de drones?
Ninguém
conhece o número exato, mas há estimativas que falam de cerca de 3 mil mortos. Vários
grupos rastreiam os ataques de drones e estimam o número de vítimas:
– O
Long War Journal cobre o Paquistão e o Iêmen.
– O New
America Foundation cobre o Paquistão.
– O
London Bureau of Investigative Journalism cobre Iêmen, Somália, e Paquistão, e
oferece estatísticas sobre ataques com drones também no Afeganistão.
Quantos dos mortos eram
civis?
Impossível
saber. Os números variam muito, para mais e para menos. A New America
Foundation, por exemplo, estima que entre 261 e 305 civis foram mortos no
Paquistão; o Bureau of Investigative Journalism fala de 475 a 891 mortos. Todas
essas estimativas são sempre superiores ao número de mortos que o governo
divulga. (Há discrepâncias até entre os que oferecem as menores
estimativas.) Algumas análises mostram
que o número de civis mortos diminuiu em anos recentes. (…) E o Washington Post
noticiou mês passado que o governo do Iêmen frequentemente oculta ou tenta
ocultar o papel dosdrones dos EUA em eventos nos quais morram civis.)
Os
números são imprecisos também porque os EUA com frequência contabilizam
qualquer homem em idade de prestar serviço militar, que morra em ataque de
drones, como “militante terrorista”. Um funcionário do governo Obama disse à
nossa rede ProPublica que “Se um grupo de homens em idade de combater está em
local onde sabemos que estão construindo explosivos ou planejando ataques,
assumimos que todos os ali reunidos participam do mesmo esforço.” Não se tem
notícia de resultados de investigação, nem se há qualquer investigação, depois
de consumado o ataque.
A
Faculdade de Direito da Universidade Columbia elaborou análise em profundidade
de tudo que se sabe sobre esforços dos EUA para mitigar e calcular o número de
baixas entre civis. Concluiu que o caráter clandestino da guerra dos drones
dificulta, quando não impede completamente as práticas de prestação pública de
contas que se adotam nas ações militares tradicionais. Outro estudo de Stanford
e da New York University, comprovou “ansiedade e trauma psicológico” entre
habitantes de vilas paquistanesas.
Esse
outono, a ONU anunciou uma investigação sobre o impacto nas populações civis –
especialmente sobre acusações de “ataques duplos“ [orig. double-tap], casos em
que ocorre um segundo ataque, que toma por alvos os que venham à cena do
primeiro ataque para socorrer feridos.
Por que matar primeiro? Por
que não se cogita de capturar suspeitos?
Funcionários
do governo Obama têm dito em declarações que os militantes são tomados como
alvos de execução quando representem ameaça iminente ao EUA e a captura não
seja exequível. Mas a execuções em ataques de drones são muito mais frequentes
que eventos de prisão de suspeitos; e os relatórios dos ataques pouco ou nada
esclarecem sobre “ameaça iminente” ou “exequibilidade” de prisões. Casos que
envolvam captura secreta de prisioneiros, em conflitos em área remotas, durante
o governo Obama mostram as dificuldades políticas e diplomáticas que se criam
para que se decida como e onde um suspeito possa ser detido ou preso.
Esse
outono, o Washington Post descreveu algo denominado “disposition matrix [Matriz
de alvos a serem dispostos (mortos)] – processo que oferece planos de
contingência para o que fazer com terroristas, conforme o local onde estejam.
The Atlantic mapeou o modo como se tomam decisões, no caso de o ‘suspeito’ ser
cidadão norte-americano, baseado em alguns exemplos conhecidos. Mas,
evidentemente, os detalhes dessa “matriz de alvos a serem mortos [dispostos]”,
bem como as “listas de matar” a que dão origem, não são conhecidos.
Qual o fundamento que dá
amparo legal a esses esquadrões da morte oficiais?
Funcionários
do governo Obama têm feito várias declarações e discursos nos quais muito falam
da fundamentação legal em que se baseariam os assassinatos predefinidos, mas
jamais citam qualquer caso específico. De fato, ninguém reconhece oficialmente
a existência da guerra de drones. Os programas de drones para assassinatos
premeditados pode incluir indivíduos associados à al-Qaeda ou “forças
associadas”, também fora do Afeganistão e, até, cidadãos norte-americanos.
“O
devido processo legal, disse o Procurador Geral dos EUA Eric Holder, em
discurso em março passado, “toma em consideração as realidades do combate”. Em
que consiste esse “devido processo legal”, não se sabe. E, como já noticiamos,
o governo dos EUA frequentemente se fecha
para comentários de qualquer tipo e para questões específicas – como o
número de civis mortos ou os motivos específicos pelos quais um ou outro indivíduo
tenha sido considerado ‘alvo preferencial’ para assassinato premeditado, ou por
que a captura foi considerada ‘não exequível’ (como se vê em memorando do
Departamento de Justiça, não secreto, ao qual teve acesso a rede NBC). (…)
Quando terminará a guerra dos
drones?
O
governo dos EUA, dizem alguns noticiários, já teria considerado a desescalada
da guerra dos drones, mas, segundo outras fontes, estaria trabalhando para
formalizar o programa de assassinatos premeditados, que seria convertido em
programa de longa duração. Os EUA avaliam que a Al-Qaeda na Península Arábica
conte hoje com “uns poucos milhares” de membros; mas há oficiais que também
dizem que os EUA “não podem capturar ou assassinar todos os terroristas que se declarem
‘ligados’ à al-Qaeda.”
Jeh
Johnson, que acaba de deixar o posto de conselheiro geral do Pentágono, fez uma
palestra, mês passado, sob o título de “The Conflict Against Al Qaeda and its
Affiliates: How Will It End?” [O conflito contra a al-Qaeda e seus afiliados:
como acabará?]. Mas não marcou data.
John
Brennan disse que a CIA deve voltar a concentrar-se no trabalho de coletar
inteligência. Mas o papel principal de Brennan no comando da guerra dos drones
a partir da Casa Branca já levantou o debate sobre o quanto sua indicação para
dirigir a CIA servirá para ocultar ainda mais o envolvimento da agência, se vier
a ser confirmado no posto.
E quanto a volta do chicote
dos drones – e o antiamericanismo –, em todo o mundo?
Disso,
sim, há muito, em todo o mundo. Os drones são cada vez mais profundamente
impopulares nos países onde são empregados, e continuam a provocar protestos
frequentes. Apesar disso, Brennan disse em agosto passado que os EUA veem
“poucos sinais de que a ação dos drones esteja gerando sentimentos
antiamericanos, ou facilitando o recrutamento de terroristas”.
O
general Stanley McChrystal, que comandou os militares no Afeganistão,
contrariou recentemente essa ideia: “O ressentimento criado por os EUA usarmos
os veículos não tripulados como arma de ataque (…) é muito maior do que supõem
os americanos médios. Os drones são visceralmente odiados, até por gente que
jamais viu um drone ou conheceu os efeitos da ação de um deles.” O New York
Times noticiou recentemente que militantes paquistaneses haviam deflagrado
campanha brutal contra locais acusados de espionagem a favor dos EUA.
Quanto
a governos estrangeiros, a maioria dos principais aliados dos EUA mantêm
silêncio sepulcral sobre os drones. Relatório da ONU, de 2010, já levantara
preocupações sobre o precedente que se criava, de guerra clandestina, sem leis
e sem qualquer limite. O presidente do Iêmen, Abdu Hadi, apoia a campanha dos
drones norte-americanos; e o governo do Paquistão mantém uma inconfortável
combinação de protestos para efeito público com aceitação oficial muda.
Fonte original: Pro
Publica
Publicação em português: Outras
Palavras
Assinar:
Comentários (Atom)